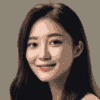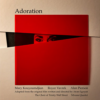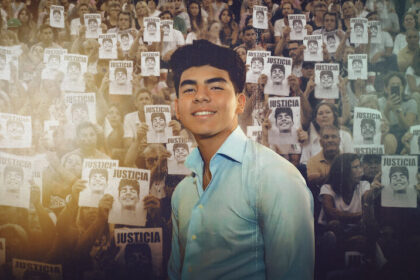Uma nova série documental, estreada hoje globalmente na Netflix, oferece uma análise sóbria de quatro tragédias fundamentais que moldaram a psique da Coreia do Sul moderna. A série de oito episódios, Tragédias Coreanas: Histórias de Sobrevivência, produzida pela emissora coreana MBC, vai além dos relatos históricos higienizados para confrontar as verdades dolorosas e frequentemente suprimidas por trás de eventos que deixaram cicatrizes indeléveis na memória coletiva da nação. A série parte de uma premissa clara e desafiadora: algumas histórias são demasiado dolorosas para serem revividas, mas demasiado importantes para serem esquecidas.
O projeto é liderado pelo realizador Jo Seong-hyeon, cujo trabalho anterior, a aclamada série documental de 2023 Em Nome de Deus: A Santa Traição, estabeleceu a sua reputação de narrador de investigação inflexível. Esta nova série funciona como uma sucessora temática, com Jo e a sua equipa criativa a regressarem para expandir a sua investigação da patologia específica da exploração religiosa para um espectro mais amplo de trauma social. A abordagem metodológica mantém-se consistente: uma “perspetiva centrada nos sobreviventes” que prioriza o testemunho pessoal em detrimento da análise abstrata. Através de uma combinação meticulosa de entrevistas íntimas e imagens de arquivo raras, a série visa não só recontar os eventos angustiantes, mas também explorar a resiliência duradoura daqueles que os viveram, procurando reenquadrar a memória pública através da amplificação de vozes há muito silenciadas.
A série chega num momento de maior acerto de contas sociopolítico na Coreia do Sul, onde existe um ímpeto renovado para reexaminar desastres passados e responsabilizar as instituições, como evidenciado por ações governamentais contemporâneas relativas a tragédias mais recentes. Os quatro eventos escolhidos para esta série não são incidentes isolados; são emblemáticos das dores de crescimento distintas e muitas vezes brutais de uma nação que atravessa uma das transformações mais rápidas da história moderna. Cada tragédia serve como um estudo de caso para uma faceta diferente do lado sombrio do “Milagre no Rio Han”: a natureza insidiosa da exploração religiosa que prospera numa sociedade em fluxo, a violência sistemática de um estado autoritário obcecado pela sua imagem internacional, a raiva niilista nascida da desigualdade económica extrema e as consequências catastróficas da ganância empresarial, auxiliada pela corrupção estatal. Neste contexto, Tragédias Coreanas transcende o formato documental para se tornar um ato de verdade e reconciliação cinematográfica, usando uma plataforma global para forçar uma conversa nacional sobre o custo humano do seu próprio progresso.

Uma investigação mais profunda sobre fé e exploração
A série começa por revisitar um território familiar para o seu realizador, expandindo a investigação sobre a seita Jesus Morning Star (JMS), que foi um foco central de Em Nome de Deus: A Santa Traição. Este novo exame traz à luz novos testemunhos e fornece um contexto mais profundo para as décadas de alegada lavagem cerebral e má conduta sexual orquestradas pelo seu líder, Jeong Myeong-seok. A narrativa traça o perfil de Jeong como um carismático profeta autoproclamado que fundou o seu movimento Providência na década de 1980, recrutando com sucesso entre as fileiras de estudantes de universidades de elite ao incorporar a sua organização na vida do campus através de clubes desportivos e sociais.
O documentário narra a longa e cíclica perseguição judicial a Jeong. Isto inclui a sua fuga da Coreia do Sul em 1999, após uma reportagem televisiva, uma subsequente caça ao homem internacional que culminou numa Notificação Vermelha da Interpol e a sua eventual extradição da China para enfrentar a justiça. A sua primeira condenação resultou numa pena de 10 anos de prisão pela violação de múltiplas seguidoras, um período de encarceramento que terminou com a sua libertação em 2018. A série documenta então a sua reincidência, detalhando a sua nova detenção e acusação em 2022 por novas acusações de agressão sexual a várias seguidoras, incluindo cidadãs estrangeiras da Austrália e de Hong Kong. A complexa batalha legal que se seguiu é um foco principal, traçando a sua sentença inicial de 23 anos, a sua controversa redução para 17 anos em recurso e a confirmação final desta sentença pelo Supremo Tribunal da nação.
Uma dimensão crucial desta investigação é a exposição da falha e cumplicidade institucional. A série aborda a suposta existência da fação “Sasabu”, um grupo de seguidores da JMS que alegadamente operava dentro da força policial sul-coreana, acusados de obstruir as investigações sobre as atividades da seita. Este fio narrativo é reforçado pela recente suspensão de um capitão da polícia pelo seu papel em dificultar a investigação sobre Jeong. O poder e a influência da organização JMS são ainda ilustrados pelas suas táticas legais agressivas, incluindo a apresentação de providências cautelares para bloquear a transmissão tanto desta série como da sua predecessora, argumentando que os programas violam o princípio da presunção de inocência e constituem um ataque à liberdade religiosa.
O caso JMS, tal como apresentado, transcende um contexto puramente doméstico coreano, revelando-se um fenómeno distintamente transnacional. Os crimes pelos quais Jeong foi condenado foram cometidos em toda a Ásia, na Malásia, em Hong Kong e na China, com vítimas de todo o mundo. A própria seita mantém uma rede global, com operações relatadas em pelo menos 70 países, incluindo filiais ativas na Austrália e na Malásia. A própria série documental tornou-se um agente crítico no combate a este alcance global. A primeira série, Em Nome de Deus, teve um impacto internacional tangível, levando espectadores de outros países a partilhar informações sobre os capítulos locais da JMS e a empoderar sobreviventes fora da Coreia. O lançamento desta nova série, com os seus novos testemunhos, sugere um ciclo de retroalimentação em que a exposição mediática encoraja mais vítimas a manifestarem-se, criando uma comunidade global de sobreviventes conectada digitalmente. O documentário atua, assim, como uma poderosa contramedida, perfurando o véu de sigilo que permite que tais organizações operem através das fronteiras e fornecendo uma plataforma para um testemunho coletivo e internacional contra elas.
A descoberta da atrocidade sancionada pelo Estado no Lar dos Irmãos
A série dedica uma parte significativa da sua narrativa aos eventos horríveis que ocorreram no Lar dos Irmãos de Busan (Hyeongje Bokjiwon), uma instituição que foi referida como um campo de concentração coreano. Operando oficialmente como uma instalação de bem-estar para “vagabundos” desde a década de 1970 até à sua exposição em 1987, o Lar dos Irmãos era, na realidade, um campo de internamento sancionado pelo Estado. Milhares de pessoas — incluindo indivíduos sem-abrigo, pessoas com deficiência, crianças e até mesmo estudantes manifestantes — foram arbitrariamente recolhidas das ruas pela polícia e pela equipa da instalação, confinadas ilegalmente e submetidas a uma série de abusos de direitos humanos.
Através de testemunhos angustiantes de sobreviventes, o documentário reconstrói um regime de violência sistemática. Os internos eram forçados a trabalho não remunerado nas mais de 20 fábricas da instalação, produzindo bens para exportação. Eles suportaram constantes agressões físicas e sexuais, tortura e fome. O número oficial de mortos da instalação é agora estimado em pelo menos 657, com taxas de mortalidade por doença e abuso muito superiores à média nacional. Registos médicos indicam a administração forçada de medicamentos antipsicóticos para manter o controlo, e evidências sugerem que algumas das crianças encarceradas no lar foram vendidas para o mercado de adoção internacional.
A série deixa claro que estas atrocidades não foram ações de uma única instituição desonesta, mas foram ativamente permitidas e encorajadas pela política estatal. Os abusos foram realizados sob uma diretiva oficial do governo emitida em 1975 para “purificar” as ruas, uma campanha que se intensificou no período que antecedeu os Jogos Asiáticos de 1986 e os Jogos Olímpicos de Seul de 1988. A polícia e as autoridades locais recebiam incentivos para recolher o maior número possível de “vagabundos”, e o Lar dos Irmãos recebia subsídios do governo com base no número de pessoas que encarcerava. A cumplicidade do Estado era profunda; o poderoso Comando de Segurança da Defesa do exército usou a instalação como um local secreto para internar e vigiar indivíduos considerados politicamente “suspeitos” sob a draconiana Lei de Segurança Nacional.
A parte final deste arco narrativo detalha a luta de décadas por justiça. A instalação foi exposta pela primeira vez em 1987 por um procurador, Kim Yong-won, que descobriu acidentalmente um grupo de trabalho forçado. No entanto, a investigação subsequente foi suprimida, e o proprietário da instalação, Park In-geun, recebeu apenas uma sentença leve por apropriação indébita, sendo absolvido de confinamento ilegal. O documentário narra o ativismo incansável de sobreviventes, como Han Jong-sun e Choi Seung-woo, cuja luta acabou por levar à aprovação de uma Lei Especial em 2020. Esta lei estabeleceu uma nova Comissão de Verdade e Reconciliação, que, em 2022, reconheceu oficialmente o incidente do Lar dos Irmãos como uma “grave violação dos direitos humanos” e um ato de “violência de Estado”, recomendando finalmente um pedido de desculpas oficial do Estado e apoio às vítimas.
A história do Lar dos Irmãos é uma ilustração arrepiante da biopolítica, um modo de governação onde o Estado exerce poder sobre a própria existência biológica dos seus cidadãos. A política oficial de “purificar” as ruas enquadrava certas pessoas não como cidadãos que necessitavam de ajuda, mas como contaminantes sociais a serem removidos do corpo político ao serviço da construção de uma imagem nacional moderna e ordenada para uma audiência internacional. As vidas dos internos foram sistematicamente desvalorizadas e sacrificadas em prol da marca nacional antes das Olimpíadas. Este apagamento da personalidade é um tema recorrente nos relatos dos sobreviventes: receber um número em vez de um nome, ou ter a identidade completamente substituída. Nesse contexto, as ações do Estado reduziram os cidadãos ao que o filósofo Giorgio Agamben chamou de “vida nua” — vida que pode ser tirada sem consequências. A declaração formal de “violência de Estado” pela Comissão de Verdade e Reconciliação é, portanto, profundamente significativa. É um ato oficial que reinscreve as vítimas na narrativa nacional como cidadãos cujos direitos foram violados pelo próprio Estado que deveria protegê-los. Ao amplificar as suas vozes há muito silenciadas, o documentário participa diretamente neste ato crucial de restauração histórica e política.
Ódio de classe e uma onda de violência: Os assassinatos de Jijonpa
A terceira tragédia explorada pela série é o caso dos Jijonpa, ou a “Gangue Suprema”, um grupo cuja breve, mas excecionalmente violenta, onda de crimes em 1993 e 1994 chocou a nação. A gangue, fundada por um ex-condenado chamado Kim Gi-hwan, era composta por outros ex-prisioneiros e trabalhadores desempregados que estavam unidos por uma ideologia clara e brutal: um ódio profundo pelos ricos. A sua doutrina, como eles a articularam, era simples: “Nós odiamos os ricos”.
Os seus métodos eram tão calculados quanto o seu motivo era cru. A gangue estabeleceu um esconderijo remoto completo com uma instalação de incineração construída sob medida e celas de prisão na cave, projetadas para o descarte das suas vítimas. Eles acumularam um arsenal de armas, incluindo armas de fogo e dinamite, com o objetivo declarado de extorquir mil milhões de wons dos seus alvos. As suas vítimas não eram escolhidas ao acaso, mas selecionadas com base nos símbolos conspícuos da riqueza recém-descoberta da época. Conduzir um carro de luxo como um Hyundai Grandeur ou aparecer numa lista de correio da exclusiva Loja de Departamentos Hyundai era o suficiente para marcar alguém para sequestro.
A série relata a brutalidade crescente da gangue. Os seus crimes começaram com um assassinato de “prática” de uma jovem que eles consideraram não ser rica o suficiente para ser uma vítima “real”, e incluíram a execução de um dos seus próprios membros por roubar fundos. A sua campanha de sequestro e extorsão culminou no assassinato de um casal rico e de um músico confundido com um homem rico. A crueldade dos Jijonpa era extrema, estendendo-se a atos de canibalismo — que um membro confessou ser uma tentativa de renunciar totalmente à sua humanidade — e forçando uma cativa a participar no assassinato de outra vítima para garantir o seu silêncio. O reinado de terror da gangue terminou apenas quando uma das suas cativas, uma mulher chamada Lee Jeong-su, conseguiu uma fuga ousada e alertou a polícia. Após a detenção, os membros não mostraram remorso, com o seu líder a afirmar que o seu único arrependimento era não ter matado mais pessoas ricas. Eles foram condenados à morte e executados, mas o caso foi tão infame que mais tarde inspirou crimes de imitação.
Os assassinatos de Jijonpa não podem ser entendidos como um ato isolado de psicopatia; eles foram um sintoma grotesco e extremo das profundas ansiedades sociais e antagonismos de classe que fermentavam sob a superfície reluzente do milagre económico da Coreia do Sul. O início da década de 1990 foi um período de imensa realização económica, à medida que a nação se transformava numa potência industrial. No entanto, esta rápida estratégia de “crescimento primeiro”, liderada pelo Estado, também criou uma vasta desigualdade de riqueza, disparidades regionais e o que foi descrito como uma forma de “capitalismo de compadrio” que deixou muitos para trás. Os membros dos Jijonpa eram do lado desprivilegiado desta transformação económica. A sua violência não era meramente criminosa; era ideológica. Ao visar os símbolos da nova sociedade de consumo — os carros de luxo, as lojas de departamento de alta classe — eles estavam a travar uma guerra de classes perversa e niilista contra um sistema que sentiam que os havia excluído. A decisão do documentário de colocar esta história ao lado de narrativas de falhas estatais e empresariais é uma escolha curatorial deliberada. Argumenta que a violência estrutural da desigualdade social e económica extrema pode manifestar-se de formas tão destrutivas e aterrorizantes quanto qualquer atrocidade institucional.
O colapso da confiança: Um desastre causado pelo homem em Sampoong
O último estudo de caso da série é o colapso da Loja de Departamentos Sampoong, um desastre causado pelo homem que se tornou um símbolo duradouro de corrupção sistémica e negligência criminosa na história moderna da Coreia do Sul. O documentário reconstrói os eventos de uma tarde movimentada, quando a luxuosa loja de departamentos de cinco andares em Seul desabou repentinamente sobre a sua própria cave em menos de vinte segundos. O colapso matou 502 pessoas e feriu 937, prendendo quase 1.500 compradores e funcionários dentro dos escombros.
Como a série detalha meticulosamente, a investigação revelou que o colapso não foi um acidente, mas o resultado inevitável de uma cascata de falhas deliberadas e motivadas pelo lucro. O prédio foi originalmente projetado como um edifício de escritórios de quatro andares, mas o seu proprietário, Lee Joon do Grupo Sampoong, adicionou ilegalmente um quinto andar para abrigar restaurantes pesados com pisos de betão aquecidos e espessos. A construtora original recusou-se a fazer as modificações perigosas e foi demitida. Para maximizar o espaço de retalho, colunas de suporte cruciais foram afinadas e espaçadas demais, e grandes buracos foram cortados na estrutura de laje plana do prédio para instalar escadas rolantes, comprometendo criticamente a sua integridade. A investigação também descobriu que betão de qualidade inferior e varões de aço de reforço mais finos do que o necessário foram usados para cortar custos. O gatilho final veio quando três enormes unidades de ar condicionado de várias toneladas foram arrastadas pelo telhado — em vez de serem levantadas por um guindaste — para uma nova posição, criando fendas profundas na estrutura já sobrecarregada. As vibrações destas unidades no dia do colapso causaram uma falha fatal por punçoamento, onde as colunas enfraquecidas perfuraram as lajes de betão acima delas.
Talvez o aspeto mais condenatório da tragédia, destacado pelo documentário, tenha sido o elemento de negligência intencional. A gerência da loja estava ciente do perigo. Fendas profundas vinham a aparecer há meses e, no dia do colapso, ruídos altos foram ouvidos nos andares superiores enquanto a estrutura começava a falhar. Apesar destes sinais de alerta claros e do conselho de engenheiros para evacuar, a gerência recusou-se a fechar a loja, supostamente porque não queriam perder um dia de vendas de alta receita. O rescaldo envolveu um esforço de resgate heroico, mas caótico, com a última sobrevivente, uma balconista de 19 anos chamada Park Seung-hyun, a ser milagrosamente retirada dos escombros após 17 dias. O presidente da loja, Lee Joon, e o seu filho foram eventualmente condenados à prisão por negligência criminosa, juntamente com vários funcionários da cidade que haviam aceitado subornos para aprovar as modificações ilegais. O desastre levou a um clamor público maciço, inspeções de edifícios em todo o país que descobriram que apenas um em cada cinquenta edifícios era seguro, e a aprovação de uma nova Lei de Controlo de Desastres.
O colapso da Loja de Departamentos Sampoong serve como uma metáfora poderosa e duradoura do fracasso do contrato social numa sociedade que passou a priorizar o lucro e a velocidade em detrimento da vida humana. O colapso físico do prédio foi um reflexo direto do colapso moral das instituições — empresariais, governamentais e reguladoras — encarregadas da segurança pública. Cada falha estrutural representava um momento em que um dever de cuidado foi trocado por ganho financeiro. O impacto psicológico a longo prazo nos sobreviventes e na nação não decorre apenas do horror do evento em si, mas desta profunda traição de confiança. Um inquérito recente a famílias enlutadas descobriu que a maioria ainda sofre do que é descrito como “perturbação de amargura pós-traumática”, uma condição enraizada num profundo sentimento de injustiça e traição, alimentado pelas sentenças relativamente leves dadas aos responsáveis. O desastre revelou um padrão reativo de governação, onde a política de segurança só é abordada após uma catástrofe, em vez de ser um valor cultural proativo. O foco do documentário em Sampoong é, portanto, um exame de um trauma cultural fundamental, um momento em que a promessa de prosperidade se revelou construída sobre uma fundação perigosamente fraca, tanto literal quanto figurativamente.
O documentário como testemunho: Uma análise formal
Tragédias Coreanas adere a uma filosofia documental consistente com o trabalho anterior do realizador Jo Seong-hyeon, priorizando o pessoal e o íntimo como uma lente através da qual criticar estruturas sociais e políticas maiores. A sua abordagem alinha-se a uma tendência significativa na produção de documentários sul-coreanos que, desde a década de 1990, mudou o seu foco dos amplos movimentos trabalhistas para as histórias dos indivíduos mais vulneráveis da sociedade. A série é um exercício de busca da verdade cinematográfica, com o objetivo de restaurar a dignidade das vítimas, permitindo-lhes controlar as suas próprias narrativas.
A série emprega uma mistura sofisticada de técnicas cinematográficas comuns ao género de documentário de investigação moderno. A narrativa é ancorada pelo uso extensivo de “imagens de arquivo raras”, que fundamentam os testemunhos pessoais em factos históricos objetivos. Este material, provavelmente incluindo reportagens, vídeos da polícia e mídias pessoais, oferece um olhar sem verniz sobre os eventos à medida que se desenrolavam. Essa base de arquivo é entrelaçada com o elemento central da série: as “entrevistas íntimas” com os sobreviventes. A composição visual destas entrevistas é cuidadosamente considerada, muitas vezes empregando um discurso direto para a câmara que promove um senso de intimidade confessional entre o sujeito e o espectador. A iluminação e o design do cenário parecem calculados para criar um ambiente de segurança e reflexão, permitindo momentos de contemplação silenciosa, bem como de expressão emocional. A série também parece utilizar reconstruções dramáticas, um elemento básico do género de crimes reais, para visualizar momentos-chave na linha do tempo histórica onde imagens de arquivo podem não existir.
Esta abordagem exige uma navegação cuidadosa dos desafios éticos inerentes à representação de traumas profundos. Os cineastas parecem ter adotado um princípio de contenção, semelhante ao usado em outros documentários coreanos sensíveis como Na Ausência, que narrou o desastre da balsa Sewol. A prioridade é dada às perspetivas das vítimas, permitindo que elas conduzam a narrativa. Em vez de explorar a dor para efeito sensacionalista, a série muitas vezes opta por uma apresentação mais comedida, até mesmo “mais seca”, confiando no poder dos factos e na dignidade silenciosa dos sobreviventes para transmitir a gravidade dos eventos. Há um esforço consciente para evitar a manipulação emocional através de imagens gratuitas, permitindo, em vez disso, que o silêncio e o testemunho contido provoquem uma resposta mais profunda e duradoura do público.
Tragédias Coreanas representa uma evolução significativa na forma e função do documentário sul-coreano. Ele vai além da dicotomia histórica da propaganda patrocinada pelo Estado, por um lado, e dos filmes de nicho liderados por ativistas, por outro. Ao alavancar os altos valores de produção e a rede de distribuição global da Netflix, a série embala uma contra-história crítica no formato altamente popular e acessível do documentário de investigação de crimes reais. Ela usa a autoridade forense do género — combinando evidências de arquivo, análise de especialistas e testemunhos de testemunhas de uma maneira que lembra as investigações de Inteligência de Fontes Abertas (OSINT) — para desmantelar sistematicamente as narrativas oficiais e expor falhas sistémicas. Ao fazer isso, cria um registo público poderoso e duradouro que desafia a capacidade do Estado и das empresas de controlar a memória do seu próprio passado, garantindo que estas histórias cruciais não sejam apenas lembradas, mas compreendidas no seu contexto completo e condenatório.
Conclusão: Reenquadrando a memória pública
Ao longo dos seus oito episódios, Tragédias Coreanas: Histórias de Sobrevivência sintetiza as narrativas de quatro eventos díspares num retrato coeso e devastador de uma nação em transição. A série traça uma linha clara conectando a vulnerabilidade do indivíduo contra o imenso poder das instituições — sejam elas estatais, empresariais ou religiosas. É uma meditação profunda sobre o custo psicológico a longo prazo da injustiça e um testemunho da extraordinária resiliência dos sobreviventes que lutaram por décadas, muitas vezes isolados, para que as suas verdades fossem ouvidas e reconhecidas. Coletivamente, estas histórias pintam um quadro complexo da Coreia do Sul durante um período de mudanças tumultuosas, onde as imensas pressões da rápida modernização e democratização criaram fissuras sociais profundas cujas consequências ainda estão a ser enfrentadas hoje. Em última análise, a série é uma poderosa afirmação do ato de testemunhar. Ao fornecer uma plataforma global para estes sobreviventes, ela transforma a sua dor privada num chamado universal e urgente por responsabilidade, justiça e pela criação de um contrato social mais humano.
A série documental de oito episódios Tragédias Coreanas: Histórias de Sobrevivência estreia globalmente na Netflix a 15 de agosto de 2025.