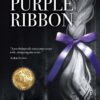A cena é banhada por uma luz suave, cinematográfica e terrivelmente banal. Uma mulher grávida segura o telemóvel, exibindo a barriga à sua mãe. A mãe suspira de emoção, arrulha e oferece conselhos maternos. Mas a mãe está morta. Trata-se de um “HoloAvatar”, uma marioneta digital animada por inteligência artificial, renderizada a partir de apenas três minutos de vídeo.
Esta é a visão promocional da 2wai, uma aplicação controversa lançada pela antiga estrela do Disney Channel, Calum Worthy. A publicidade promete que “três minutos podem durar para sempre”, um slogan que aterra com o peso metálico de uma profecia distópica concretizada. Quando o vídeo circulou nas redes sociais no final de 2025, a reação não foi de deslumbramento, mas um arrepio coletivo. Foi imediatamente rotulado de “demoníaco” e “psicótico”, com milhares de utilizadores a invocarem o enredo de “Volto Já” (Be Right Back), o profético episódio de 2013 da série Black Mirror.
No entanto, descartar isto meramente como algo “macabro” é ignorar a profunda mudança ontológica em curso. Estamos a testemunhar o que o filósofo francês Jean Baudrillard designou por precessão dos simulacros. No quadro teórico de Baudrillard, a simulação já não mascara a realidade; substitui-a. O avatar da 2wai não esconde o facto de a mãe ter morrido; constrói um cenário “hiper-real” onde a sua morte é irrelevante. A aplicação oferece um mundo onde o mapa (os dados digitais) gerou o território (a pessoa), e a finitude da morte é tratada como uma falha técnica a ser corrigida por um algoritmo.
Hauntologia e o Fantasma Digital
Para compreender o mal-estar que estes “HoloAvatares” provocam, precisamos de olhar para além da tecnologia, em direção à filosofia. O filósofo francês Jacques Derrida cunhou o termo hauntologia (hantologie) — um jogo de palavras com ontologia (o estudo do ser) — para descrever um estado onde o passado não está nem totalmente presente nem totalmente ausente, mas persiste como um “espectro”.
O “deadbot” (robô póstumo) da IA é o derradeiro artefacto hauntológico. Cria um “fantasma digital” que reside no não-lugar do servidor, à espera de ser invocado. Ao contrário de uma fotografia ou de uma carta, que são registos estáticos de um “isto-foi”, o avatar de IA é performativo. Fala no tempo presente. Viola a sacralidade da cronologia.
Walter Benjamin, no seu ensaio seminal A Obra de Arte na Era da sua Reprodutibilidade Técnica, argumentava que até mesmo a reprodução mais perfeita de uma obra de arte carece da sua “aura”: a sua presença única no tempo e no espaço. O “griefbot” (robô de luto) representa a destruição final da aura humana. Ao produzir em massa a personalidade do falecido através de algoritmos de texto preditivo, despimos o indivíduo do seu hic et nunc (aqui e agora) único, reduzindo a centelha inefável de uma alma humana a um padrão probabilístico de tokens. O resultado não é uma ressurreição, mas uma vacuidade de alta fidelidade; uma simulação que migrou do reino da arte para o reino dos mortos.
O “FedBrain” e a Mentira da Personalidade
A arquitetura técnica de aplicações como a 2wai baseia-se numa tecnologia proprietária chamada “FedBrain” (provável referência à Aprendizagem Federada), que alega processar interações no dispositivo do utilizador para garantir privacidade e reduzir “alucinações”. A promessa é que, ao limitar a IA aos “dados aprovados pelo utilizador”, o avatar permanecerá autêntico.
Contudo, a investigação de ponta sobre Grandes Modelos de Linguagem (LLMs) expõe isto como uma falácia. Estudos confirmam que os LLMs são fundamentalmente incapazes de replicar a estrutura complexa e estável da personalidade humana (como os traços do modelo “Big Five”). Sofrem de um “viés de desejabilidade social” — uma tendência para serem agradáveis e inofensivos — o que significa que inevitavelmente suavizam as arestas dentadas, difíceis e idiossincráticas que tornam uma pessoa real.
Portanto, o utilizador não está em comunhão com a sua mãe. Está a interagir com um modelo estatístico genérico que usa o rosto da mãe como uma máscara. A “personalidade” é uma alucinação; a “memória” é uma base de dados. Como notaram os investigadores, estes modelos carecem de “experiência incorporada”; não têm instinto de sobrevivência, nem corpo, nem mortalidade — tudo aquilo que molda a cognição humana. A entidade resultante é um impostor, um “monstro de Frankenstein”, tal como Zelda Williams (filha do falecido Robin Williams) descreveu as recriações não consensuais do seu pai via IA.
A Comercialização do Luto: Uma Indústria de 123 Mil Milhões
Esta sessão de espiritismo tecnológica é impulsionada por um motor económico potente. Estamos a assistir à explosão da Indústria da Vida Digital Pós-Morte (Digital Afterlife Industry – DAI) ou “Grief Tech”, um setor projetado para valer mais de 123 mil milhões de dólares a nível global.
O modelo de negócio é o que os críticos chamam de “Luto-como-Serviço” (Grief-as-a-Service). Transforma o luto de um processo finito e comunitário num consumo infinito baseado em subscrição.
- Subscrição dos Mortos: Empresas como a 2wai e a HereAfter AI (que utiliza um modelo mais ético de entrevistas pré-mortem) monetizam o desejo de conexão.
- A Ética do “Dataísmo”: O filósofo Byung-Chul Han alerta para a ascensão do Dataísmo, onde a experiência humana é rendida ao “totalitarismo dos dados”. Neste regime, a “morte digital” é negada. Tornamo-nos zombies produtores de dados, a gerar receita mesmo a partir da tumba.
- Mecânicas Predatórias: O risco, identificado por investigadores de Cambridge, é a “publicidade sub-reptícia”. Um “deadbot” de uma avó a sugerir uma marca específica de bolachas é a forma definitiva de manipulação persuasiva, explorando os laços emocionais mais vulneráveis para ganho comercial.
A Neurociência do Luto: “Interferência” na Máquina
Para além das críticas filosóficas e económicas, reside um perigo psicológico tangível. A Dra. Mary-Frances O’Connor, neurocientista da Universidade do Arizona e autora de The Grieving Brain, postula que o luto é, fundamentalmente, uma forma de aprendizagem.
O cérebro cria um mapa do mundo onde os nossos entes queridos são uma constante permanente (“eu estarei sempre aqui para ti”). Quando uma pessoa morre, o cérebro deve atualizar dolorosamente esse mapa para refletir a nova realidade da sua ausência. O’Connor adverte que a tecnologia de IA “poderia interferir” neste processo biológico crítico. Ao fornecer uma simulação constante e interativa de presença, o “griefbot” impede que o cérebro aprenda a lição da perda. Mantém as vias neuronais do apego num estado de anseio permanente e não resolvido — uma receita digital para a Perturbação de Luto Prolongado.
O Vazio Legal: Do “Far West” ao Testamento Digital
Atualmente habitamos um “Far West” jurídico no que toca aos direitos dos mortos digitais. Nos Estados Unidos, os “direitos de publicidade pós-morte” são uma manta de retalhos incoerente; em muitos estados, o direito à própria imagem expira no momento em que se morre.
A Europa oferece um quadro contrastante, embora incipiente. Espanha, por exemplo, foi pioneira com o conceito de “Testamento Digital” no âmbito da sua Lei Orgânica de Proteção de Dados (LOPD). Isto reconhece um “direito à herança digital”, permitindo que os cidadãos designem herdeiros específicos para gerir ou apagar a sua pegada digital.
Contudo, como argumenta a filósofa espanhola Adela Cortina, a regulação não pode ser apenas técnica; deve ser ética. Precisamos de perguntar não apenas quem detém os dados, mas que dignidade é devida aos mortos. Os “restos digitais” não são apenas ativos; são os escombros de uma vida. Sem leis robustas de “neurodireitos” ou “dignidade de dados” que se estendam pós-morte, os mortos não têm consentimento. Tornam-se matéria-prima para o “arquivo vivo” que a 2wai pretende construir — uma biblioteca de almas detida por uma corporação.
A Necessidade do Silêncio
A tragédia do “Ash-Bot” em Black Mirror não foi ele ter falhado em soar como Ash. Foi ele ter conseguido. Ofereceu um eco perfeito e oco que aprisionou a protagonista num sótão de luto suspenso.
A “sessão de espiritismo algorítmica” promete vencer a morte, mas só consegue vencer o luto. O luto requer um fim. Requer o reconhecimento doloroso do silêncio. Enquanto corremos para preencher esse silêncio com o falatório da IA generativa, arriscamo-nos a perder algo profundamente humano: a capacidade de deixar ir. Na era do Dataísmo e da hiper-realidade, o ato mais radical pode ser simplesmente permitir que os mortos descansem em paz, não simulados e sem subscrição ativa.